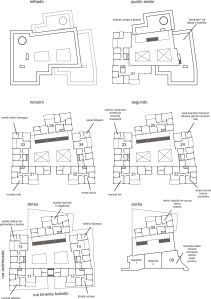Inquieta, ergueu a cabeça e olhou para o grande vão que deixava ver o teto envidraçado do último andar, inclinando-se como poucas mulheres de sua idade e compleição ousariam fazer. Uma obra de arte maltratada, mas ainda uma obra de arte. Oito lances de escada a separavam do patamar no quarto andar. Havia sinais da passagem inclemente do tempo sobre tudo que às retinas conseguia ganhar foco.
As manchas indeléveis nas placas de mármore acinzentado poderiam ter sido intuídas por suas primas na fachada do edifício. As infindáveis passadas dos que por ali transitaram, desde a edificação do prédio, deixaram uma concavidade em cada degrau cansado.
Havia marcas amareladas sobre todo o piso, mas Virgínia Lélis percebia que tudo estava asseado. O crioulo sabia como zelar pelo edifício, apesar de comportar-se como um filme em câmera lenta e exalar um poderoso odor acrídeo.
Puxou a correia de couro para que sua bolsa não despencasse sobre o chão e enlaçou os próprios peitos fartos com os não menos fartos braços expostos pela ausência de mangas em seu vestido de corte reto e tema floral. Os membros obedeciam ao padrão de pele manchada por sardas, na face, que lhe emprestava um ar pueril.
A velha a deixava arrepiada: estava parada como uma estátua de carne; Virgínia não conseguia sequer perceber se respirava ou não. Alguns cadáveres de cigarros espalhavam-se pelo chão: filtros alaranjados juntavam-se a cinzas que evitavam aproximar-se do cinzeiro postado aos pés da anciã.
Mexendo, mais um pouco, nos ponteiros do belo relógio pendurado a um prego não muito estável, fui adiante, ignorando o pós-guerra, o tuíste e o roquenrou, o “paz & amor” e a marijuana, o milagre brasileiro e a Copersucar, a bomba atômica e a bomba de nêutrons, os festivais da Record e os festivais de San Remo, a televisão e a polêmica transmissão da chegada do homem à Lua! O futuro apressou-se em chegar, pulando décadas como casas de amarelinha. A cena estava acontecendo na sexta-feira, 19 de fevereiro de 1982, meses antes da Guerra das Malvinas.
A argentina corada, rechonchuda e coberta de sardas esperava o retorno do zelador suarento, ouvindo os barulhos do prédio: crianças gritavam em algum apartamento; uma TV anunciava a nova fórmula do Omo; um radinho de pilha chiava enquanto alguém tentava sintonizar, sem sucesso, uma estação qualquer; sons metalizados evidenciavam o uso de panelas.
O edifício Tueris Fustado fervilhava de vida, repleto de barulhos e a reverberação dos ecos pelas paredes pintadas com um branco acinzentado.
A mulher rechonchuda olhou o pequeno relógio em seu pulso, ignorando o da parede do edifício, sapateando o piso marmóreo, dando voltinhas em torno de seu eixo avolumado.
Os passos do zelador, que morava no apartamento dos fundos, no porão, subindo as escadas, fizeram Virgínia dar meia-volta e encarar o gigante de ébano que reluzia sob uma grossa camada de suor. As escadas, mal iluminadas, lançavam sombras sobre o rosto do negro. Virgínia semicerrou os olhos e o sorriso de dentes perfeitos dançou entre as sombras, um gato de Alice urbano num edifício decadente do centro da cidade que, há muito, deixara de garoar diariamente.
– É o vinte e cinco, dona… A eletricidade tá desligada… É só abrir as janelas…
Saindo das sombras, o zelador esticou o longo braço, oferecendo a chave. Estranhou que o negro estancasse sobre o último degrau do lance central de escadas. Virgínia não conseguia disfarçar o sotaque portenho, apesar do longo período vivido no Brasil.
– No bai suvir comigo?
O negro afastou os braços e fez uma careta, arregalando os olhos de carvão e pátina amarelo-avermelhada.
– Ih, dona! Preciso terminar um serviço pro seu Manuel… E a Telma… A minha mulher… É ciumenta como o cão… Se ela descobre… E todo mundo sabe de tudo nesse edifício… Que eu fiquei sozinho com uma mulher bonita… E estrangeira… Naquele apartamento… Aí é que o mundo se acaba mesmo!
Virgínia sentiu-se lisonjeada com o elogio às avessas no discurso cheio de reticências. Observou o negro de mais de metro e oitenta, uma careca lustrosa de desenho bem proporcionado, o abdômen de gomos definidos sob a camiseta de algodão vermelha, os membros de musculatura rija e um volume promissor entre as pernas, preso sob o pano maleável e puído da calça de um verde fubento.
Hélvio não demonstrou ter percebido o interesse em sua anatomia e manteve os braços afastados do corpo para que uma das mãos não se depositasse sobre as avantajadas partes pudendas. Era um homem rústico, mas entendia um bocadinho de educação e polidez. Tinha dado uma desculpa que podia servir de cantada, porém a legítima razão de o zelador evitar ir ao 25 era terror puro, cristalino e verdadeiro.
– Pode subir, pode subir… Eu fico esperando aqui… Até a senhora descer.
Tentando ser agradável, de repente, Virgínia esticou a mão e apanhou a chave presa a um penduricalho verde, fazendo de tudo para que seus dedos se tocassem. Sorriu. O contato provocou um arrepio que percorreu o sentido contrário das gotas de suor que escorriam pelas costas de pele nacarada de Hélvio; permaneceu impávido. Ninguém, nem mesmo uma mulher de carnes apetitosas, o forçaria a ir até o 25.
– No quiero incomodar…
– Quié isso, dona… É o meu trabalho… Zelar pelo prédio enquanto o fim do mundo não vem.
Sem poder evitar voltar a olhar para o volume que balançava desavergonhadamente sob a calça gasta, Virgínia notou o alicate na mão esquerda do negro. A pressa que a deixara nervosa pela demora do zelador que anunciava o fim do mundo desaparecera.
– Como é mesmo o seu nome?
– Hélvio Hipólito de Souza… Ao seu dispor, dona.
– Enton posso suvir?
– Segundo andar… É o vinte e cinco… O dos fundos…
Forçou um pouco os olhos e descobriu algo agradável para falar do apartamento que lhe incutia medo.
– A melhor vista do edifício…
Virgínia decidiu-se em tomar o lance de escadas da direita, evitando passar ao lado da velha em sua cadeira de madeira que parecia mais viva que a dona.
Enquanto olhava a mulher subir as escadas devagar, Hélvio não resistiu à tentação de arrumar o grande membro viril que requeria mais espaço entre os panos de sua calça de malha que um dia servira de pijama para seu Manoel da padaria.
A portenha, pé ante pé, subiu os 12 degraus até o primeiro patamar intermediário, lentamente, parando para recuperar o fôlego. Se realmente viesse a alugar o apartamento, perderia, enfim, os desgraçados dos muitos quilos adicionais.
Em frente à porta do apartamento 15, Virgínia reconheceu o som da TV que ouvira do térreo; Celso Freitas anunciava as atrações carnavalescas do Fantástico que iria ao ar dois dias depois. Mais adiante, Elis Regina cantava um samba dos bons. Dois adolescentes afogueados vinham descendo as escadas pulando degraus, sorridentes.
– Assim não vale, Biel!
Gritou o feio garoto sardento com óculos de lentes muito grossas, para o mais bonito da dupla. Os olhos de um azul encantador do garoto bonito fixaram-se nos castanhos claros da mulher gorda. Ao passar por Virgínia, o dono dos olhos de piscina piscou e diminuiu o passo.
– Boa tarde, senhora.
O sardento de olheiras profundas e cachinhos leoninos quase esbarrou no amigo. Recompôs-se e ajeitou os óculos, meio sem graça.
– Boa tarde.
Os dois tomaram o lance da esquerda e voltaram a descer os degraus em desabalada carreira e falaram, em uníssono.
– Boa tarde, dona Julieta.
A estátua tinha nome.
Virgínia olhou para o andar acima, seu destino, sem prestar atenção ao tiroteio do anúncio de algum filme da Sessão da Tarde. O radinho de pilha calara-se. Sentindo um arrepio leve, voltou a subir as escadas.
Outro alguém descia num ritmo perfeito de intervalos exatamente iguais. Tentou não voltar a cabeça para fitar a figura estranha que atravessara seu caminho, mas sentiu-se parte de um circo e o pescoço não mais obedecia às ordens do cérebro. A indumentária de um amarelo gritante apenas corroborava a sensação de estranhamento ao presenciar aquele senhor descendo as escadas. O barulho dos saltos altos sobre os degraus de pedra sobrepujava qualquer outro som. O travesti passou por ela, ausente, conversando consigo mesmo.
O segundo andar parecia vazio, mas bastou apurar um pouco os ouvidos para perceber que alguém estava lavando pratos. Uma voz rouca, no andar de baixo, chegou com clareza.
– Onde está Mustache, Renée?
A resposta foi dada com uma voz afetada.
– Na manicure. Vou buscar ele nesse momento.
Virgínia tinha mais um lance de escadas a galgar até o apartamento que a interessava.
Atravessou o lance da esquerda, passando em frente às portas marcadas com o número 23. Postou-se frente a uma das portas do apartamento25. Achave não servia. Caminhou até a outra.
O cheiro que se esgueirava pela fresta entre a folha de madeira e a soleira da porta lembrava-lhe algo familiar. A chave rodou na fechadura com facilidade. A pouca luz do corredor não era suficiente para deixar antever qualquer canto do interior do apartamento.
Os pêlos da nuca marcaram continência sob a lufada de vento. O cheiro era forte, ali dentro: um hálito de coisas passadas, um olor de esquecimento. O aroma a envolveu num abraço de mil tentáculos, penetrando as narinas e os poros.
Virgínia respirou fundo, tentando encontrar ar fresco, achando apenas o perfume que escapava do apartamento como se um bando de pássaros aprisionados buscassem freneticamente a liberdade inesperada. Escancarou a porta e caminhou até onde lhe pareceu ser uma das janelas, na parede da direita, mantendo os olhos fechados.
A brisa leve, que encontrava passagens invisíveis e se movia à vontade no ambiente enclausurado, tocou suas pernas com dedos gelados, fazendo carícias ousadas que aumentavam o ângulo de elevação dos pêlos logo acima de seu pescoço. Virgínia já sentira algo parecido antes, muitas vezes. E sempre a incomodava.
O ferrolho cedeu à pressão e a janela se abriu com um uivo longo e estalidos rápidos. A luz penetrou na sala ampla e a brisa pareceu esgueirar-se para o corredor e esconder-se em algum outro cômodo ainda às escuras.
Boa parte da rua de trás se mostrava além dos telhados das casas baixas cercadas de grandes edifícios de diferentes estilos arquitetônicos, mas a janela ficava num ângulo ruim para ver a cena por completo; precisava ir até um dos quartos.
A sala estava vazia, porém limpa, como se os antigos moradores tivessem se mudado naquela manhã. O piso de madeira clara brilhava como um espelho. Os bocais das luminárias sorriam banguelas. Com uma rápida vista-d’olhos, percebeu a saída para um cabo comunitário de TV e a tomada para instalação de uma linha telefônica. O apartamento parecia ter sofrido uma reforma recente.
Virgínia caminhou até o centro da sala e viu uma senhora jovem sair pela porta da cozinha do 24 para depositar três sacolas plásticas numa grande lixeira. As duas se cumprimentaram com acenos de cabeça.
Virgínia embarafustou-se pelo corredor. O banheiro também estava em ordem. Foi até a cozinha e abriu a janela. O tráfego na Rua Andrômeda era tranquilo. Sob a luz do dia, tudo estava asseado e os ladrilhos do piso e das paredes brilhavam como novos. Virgínia fez um agradecimento silencioso por que a brisa gelada não chegara até ali.
Havia duas portas. A chave que o negro Hélvio a entregara não servira na que dava para o patamar da escadaria. Abriu a outra e deparou-se com a área de serviço, castigada pelas chuvas. Havia, enfim, poeira e folhas secas espalhadas pelo piso. Com uma passada dos dedos sobre a louça da lavanderia, pôde verificar, no entanto, que, sob a grossa camada de pó, a superfície esmaltada mantivera o frescor e a brancura de uma peça recém-saída da fábrica.
Pareceu-lhe ouvir uma voz vinda da sala. Atravessou a cozinha e o corredor para deparar-se, aliviada, com a senhora que se desfizera das sacolas de lixo, à porta, sorridente.
– Olá!
Virgínia respondeu, seca.
– Voa tarde.
Sua antipatia não foi registrada pela mulher de cabelos cor de cobre e olhos azuis cintilantes. A curiosidade matou o gato e parecia querer devorar as entranhas da mulher vestida com calças jeans surradas, uma blusa leve de algodão e um avental azulado sem qualquer mancha de gordura.
– Meu nome é Adriana. Moro no 24 com meu marido e meu filho. É um bom apartamento, não é? Pretende alugar ou comprar?
– O apartamento tamvém está à benda?
O sorriso se ampliou no rosto de Adriana.
– De onde você é? Não. Deixa eu adivinhar. Argentina?
– Si, Buenos Aires.
– Uma cidade linda!
Virgínia não queria conversar, mas agradava-lhe a companhia.
– Bocê coniece?
– Ah, estive por lá umas duas vezes. A última foi há uns dois anos. Adorei voltar à Recoleta. Há quanto tempo você está aqui?
Dando as costas para Adriana, Virgínia voltou ao corredor, sinalizando para que a senhora que queria ser simpática a acompanhasse em sua peregrinação final: precisava verificar os quartos.
– Muito tempo. Fejado há muito? Este apartamento?
Conseguindo ouvir a voz de Adriana atrás de si, Virgínia tinha certeza de que outro som insistia em soprar-lhe algo nos ouvidos. Um aviso, um lamento.
– Muitos anos. Moramos no Tueris desde que o Biel tinha três anos. – Uma pausa recheada de sons que Virgínia não conseguia entender – Ele tá com catorze agora. Uns onze anos, pelo menos.
As duas mulheres foram até um dos quartos e Virgínia testou a janela. Abriu-a e a luz entrou sem cerimônia. A brisa gelada que se aninhara ali fugiu mais uma vez, para o outro quarto.
– Onse ânios… E como ele está tan bem cuidado?
Adriana olhou à sua volta e arregalou os olhos ao se dar conta do perfeito estado de tudo. Não havia qualquer sinal de poeira, as paredes estavam como se tivessem recebido uma recente demão de tinta branco-neve. Falou para si mesma.
– Nossa… Nunca vi ninguém entrar aqui. É a primeira vez que eu vejo essa porta aberta. É a primeira vez que entro nesse apartamento. Isso é impressionante.
– O selador, talbez…
Hélvio falara da vista bonita. Os vizinhos do 15 e do 35 deveriam compartilhar da beleza da rua aladeirada que se estendia até o vale em que passava a Nove de Julho. Dava para ver a Igreja da Consolação, o Copan e o Hilton dentre os edifícios que formavam um paredão de concreto como moldura para o viaduto sobre a avenida movimentada.
– Não que eu saiba… Que bela vista, não?
– É o nome do vairro, no é? Seu filho tamvém é muito vonito.
– Você conheceu o Biel?
Virgínia sorriu pela primeira vez desde que se cumprimentaram de longe. Divertia-se com a surpresa de Adriana.
– Eu suvia para cá enquanto ele descia com un amigo.
– Davizinho.
A expressão de Adriana provocou um sustoem Virgínia. Avizinha do 24 abriu os olhos e soltou a mandíbula antes de falar, baixinho.
– Ai, meu Deus!
Virgínia voltou-se para onde Adriana estava olhando, o coração aos saltos, mas conseguiu apenas ver os telhados alaranjados de algumas casas térreas. Ao voltar para onde estava Adriana, viu-a saindo pela porta, apressada.
– Desculpa! Esqueci o frango no forno!
Sozinha mais uma vez, a sensação estranha voltou e o coração disparado teimava em não mudar de ritmo. A brisa gélida que se escondera no quarto ao lado formou uma parede quase sólida sob o umbral da porta do cômodo em que estava.
O tempo esticou-se. A janela da sala fechou-se com um estrondo. Virgínia deu um pulinho cômico, embora sua expressão fosse de uma seriedade inquestionável. Pouco depois, ouviu a porta da cozinha bater com força. Manteve-se atenta aos ruídos do apartamento que deveria estar vazio e um outro barulho deixou claro que a janela da cozinha acabara de ser trancada. A luz do cômodo começou a rarear. Também a janela do quarto em que estava iniciava um movimento para fechar-se, dotada de vontade própria.
Virgínia empertigou-se, tentando aparentar tranquilidade, e caminhou resoluta para o corredor, atravessando a brisa fria que a empurrava para longe dali, para a porta de entrada, que, conforto imediato, ainda estava aberta como a deixara: um convite para que abandonasse, de pronto, o apartamento.
Atravessou o umbral e voltou-se para a sala ainda em tempo de perceber que a brisa se encolhia, uma bruma translúcida, sob a luz que chegava pelo vão deixado entre a porta e seu corpo avantajado. Com um nó na garganta, puxou a folha da porta e girou a chave, a memória do cheiro ainda a bailar em suas narinas, fazendo uma prece para algum santo platino.
Lançou-se às escadas que a levariam para baixo, para longe daquele apartamento que não deveria estar tão bem cuidado. Adriana chegou à porta da cozinha do 24, surpresa.
– Já vai? Não aceita um cafezinho?
Tentou não demonstrar sua inquietação, balançando a cabeça negativamente, deseducada e mecanicamente.
– Não gostou do apartamento?
Desta vez, já no lance central, a meio caminho do primeiro andar, olhou fixo para Adriana, preocupada.
– No hai espacio para más nadie allá.
Desceu os degraus, sem voltar a olhar para cima. Surpreendeu-se com a velha sentada na cadeira de madeira escura, à frente do apartamento 13, fitando-a com olhos vazios, fixos num ponto para além da parede às suas costas, um fio de fumaça a escapar-lhe dos lábios finos e enrugados. A potente voz roufenha não combinava com a fragilidade do corpo feminino mirrado, parecendo fazer parte mais da fumaça que da garganta.
– Ele não gosta de visitas surpresa.
Alcançou o piso do hall de entrada e seu jardim central bem cuidado, decidida a ir embora sem emitir qualquer outra palavra, quando a voz da cega anciã a atingiu como uma pancada no estômago.
– Volte a frequentar o centro. Sua aura está manchada. Não é bom.
Sem olhar para trás, para a estátua que falava com voz de homem, Virgínia desceu o último lance de escadas da entrada, pisando duro sobre os degraus castigados pelo tempo e o vai-e-vem dos moradores do edifício. Hélvio a esperava com uma expressão de curiosidade.
– A chave, dona… Não vai ficar com o apartamento?
Devolveu a chave de maneira brusca. A ideia de que estivera num circo se dissipara e fora substituída por uma sensação de pavor. Sem conseguir controlar os arrepios que percorriam todo o corpo, Virgínia atravessou a porta de entrada do Tueris Fustado sem vontade de voltar ali.
O zelador foi até a porta e a empurrou até que a trave automática fizesse o serviço de manter os indesejados longe. Não sem antes dar uma bela olhada no grande traseiro que seguia pela Andrômeda, se afastando para os lados da Treze de Maio.
Hélvio rodou sobre os calcanhares e iniciou a descida pelas escadas que o levariam até o sótão, onde ficava seu apartamento e sua oficina de consertos de tudo o que pudesse se quebrar. Sorriu, olhou o relógio no braço esquerdo, ajeitou o pênis na calça cheia de furos e falou quase sem querer.
– Esse mundo… Tá pra acabar… Mesmo…